Pendências-RN, março de 2010
O
Vale do Açu se define a partir de onde o rio deixa de ser Piranhas e
passa a ser rio Açu, abrangendo, inclusive, a Várzea que se inicia a
partir da Garganta do Estreito, onde se aproximam mais os tabuleiros
laterais do seu rio. A Várzea é o que se propõe apresentar após a cidade
do Açu. Tanto assim é que os açuenses, a postos na cidade, tomam como
referência, para citar a Várzea, a direção do curso do rio e apontam
nessa direção quando dizem: foi para a Várzea.
O vocábulo AÇU é
de origem tupi-guarani que significa... e que deu nome ao município, à
sua sede, ao Vale que se conhece a partir de onde o rio deixa de ser
Piranhas, à Várzea, a parte baixa do Vale, chamada Baixo Açu,
compreendida a partir da Garganta do Estreito o litoral, onde as águas
se despejam no Oceano Atlântico.
Posteriormente, com a
oficialização da toponímia que se consagrou nos registros oficiais, a
grafia do município passou a ser usada com dois SS e acentuada – Assú, o
que não obriga os desdobramentos geográficos da região a comungarem com
a nova apresentação. Assim, Vale do Açu, Rio Açu, Baixo Açu, Várzea do
Açu e decorrências não têm a obrigatoriedade de acompanhar a grafia que é
exclusividade toponímica da sede do município.
Caso
idêntico ocorre com a denominação do estado da Bahia. Escreve-se com h,
porém deixando à parte a Baía de Todos os Santos, a Baía de São
Salvador, que dão nome ao acidente geográfico onde se supõe haverem
aportados os descobridores, no século XVI e que permanecem com a grafia
original – BAÍA.
Esses argumentos não são digeridos por
Ronaldo da Fonseca Soares, que merece o nosso respeito, desde que é um
dos pouquíssimos conterrâneos vivos preocupados com a pesquisa histórica
do nosso passado e empenhados no projeto do nosso futuro.
Assim, pretendemos iniciar um debate, nos termos em que a
estudiosa de nossa região – Nazira Vargas – chamou, com muita
propriedade, O CLAMOR DOS BERADEIROS, sobre o fracasso das nossas
potencialidades que estamos deixando desfilar à beira do abismo, sem
questionamento, por incompetência, por espera de milagres celestiais ou
por acharmos que O TREM NÃO É NOSSO, DEIXA VIRAR.
Sem
pretendermos ser os donos da verdade, desprezando opiniões e argumentos
mais sólidos – quem sabe? – queremos convocar a população, os
estudiosos, os conterrâneos e interessados daqui ou d’além para um
enfrentamento parlamentar em que sejam levados em consideração os
saberes e o amor por um pedaço de chão que está à beira do abismo e que
fatalmente despencará se não houver quem acione o alarme.
Convivemos com muitas famílias e comunidades inteiras em que a
população se auto-sustentava com as potencialidades oferecidas,
naturalmente, e disponíveis à exploração. O regime era o mesmo, a
cultura não era diferente. Apenas o progresso, a civilização foram
surgindo e, de um certo modo, sem se anunciarem para uma tentativa de
seguimento. O que não deve haver sido diferente nas outras regiões.
O atraso era maior, admitamos, porém se disponibilizavam
potenciais que dispensavam os tratores, as perfuratrizes, a tecnologia
que afastaram tudo quanto se pudesse ser explorado sem agravamento das
posses consagradas, dos latifúndios, e da propriedade que não era de
muitos.
Sempre houve os mais pobres e os mais abastados.
Havia, entretanto, um bicho que se chamava confiança mútua bem
distanciada da ganância. Os proprietários rurais dividiam as suas terras
para exploração, em parceria, com seus moradores e com os vizinhos. Com
isso, os proprietários mantinham o seu status social ou dominante, sem a
ganância do poder, e os trabalhadores, por si, sem inveja, tinham a
mesa farta, apesar da vocação eminentemente voltada para a exploração da
agricultura, que não deixava de ser um trabalho penoso, porém digno e
recompensado no final das colheitas. E os trabalhadores, agregados ou
moradores, armazenavam, para a manutenção no período das chuvas que
esperavam, paióis de feijão, de milho, de batata doce, além da
possibilidade de terem para oferecer, no comércio demandante, uma arroba
de algodão, de cera de carnaúba, um terreiro de galinhas, um garrote,
ou um “capado” para a reposição de uma “muda de roupa” dos familiares.
Não deixava de ser uma vida de pobre, porém tinha a dignidade e a
nobreza da adquirência com “o suor do próprio rosto”.
A população da Várzea do Açu era, nos períodos da estiagem,
economicamente, dependente do que lhe proporcionavam, as salinas de
Macau e de Areia Branca, que acolheu, durante muito tempo, a mão de obra
ativa disponível, garantindo emprego e, a partir da criação da
Previdência Social, aposentadoria e assistência, com que ainda não
contavam nos serviços da agricultura.
Quando faltavam as
chuvas, nos períodos próprios de sua suspensão periódica, em que os
trabalhadores se ocupavam da colheita, da produção do algodão e da cera
da carnaúba, as salinas que esperavam o verão para a colheita do sal
acumulado, abrigava toda a mão de obra ociosa da Várzea, sem limites de
quantidade dos trabalhadores. Quem não tivesse ocupação na produção
agrícola ocorrente nos meses de estio, tinha trabalho garantido nas
salinas que, diferente da colheita da matéria prima e produção da cera
de carnaúba, não dispensava os ofícios da população por falta de
capacitação técnica.
A partir da década de 60, surgiu a
mecanização das salinas e a consequente criação do Porto Ilha, de Areia
Branca, que constituiu a maior tragédia social jamais enfrentada pelos
trabalhadores da região, que passaram a contar apenas com a agricultura
primária que ainda demorou um pouco a implantar tecnologia específica.
Era uma época em que já se falava em irrigação, atraída e
aplicada na Várzea do Açu por D. Elizeu Mendes, bispo de Mossoró,
através de projetos que conseguia viabilizar junto aos órgãos do
governo, como o Plano de Valorização do Vale do Açu, porém pouco
acreditados pelos ruralistas desde que eram precários os recursos e
mínimos os beneficiários atendidos pelas poucas unidades das moto-bombas
distribuídas. Mesmo assim, vale reconhecer que já se projetava um
esforço da igreja no sentido de priorizar a humanização das ações
religiosas.
Por maior que fosse o amparo da
Previdência Social, com seus desdobramentos assistenciais, não era
suficiente para superar as taxas crescentes de desemprego, até porque
não eram todos os trabalhadores que dispunham de legalização
documentária para ingressar pleitos de aposentadoria. E começaram a
surgir pedintes e mendigos, uma população até então desconhecida na
Várzea do Açu.
A morte de D. Eliseu acelerou o desânimo total
dos varzeanos do Açu, dependentes que eram religiosa e
assistencialmente da diocese de Mossoró. Não se falou mais em
valorização do vale, em projetos de irrigação dos trabalhadores, em
perfuração de poços nas pequenas propriedades, em enfrentamento racional
da seca, em desenvolvimento de baixo para cima.
Essas
atividades deixaram de ser próprias dos trabalhadores e passaram a ser
exclusividade dos latifundiários e, posteriormente, das grandes empresas
nacionais que tinham incentivos e recursos da SUDENE, como Maísa, São
João, Finobrasa, Frunorte que, frustradas as suas intenções por
incompetência técnica e administrativa, sem se desprezar o fator
“honestidade”, algumas, quase todas, até incapazes de saldar seus
compromissos financeiros, abandonaram alguns milhares de hectares
equipados com tecnologia e equipamentos importados do primeiro mundo,
que, sucateados, empobrecem e envergonham a região.
AS VAZANTES
O rio Açu não era perene como atualmente. Secava, mas deixava o
seu leito disponível para exploração das “vazantes” que se constituíam
num manancial de feijão, batata, melancia, jerimum, e mais o que se
quisesse plantar. Havia os regimes de parceria, em que o proprietário
cedia as suas terras aos moradores e vizinhos, no leito do rio ou fora
dele, recebendo dos parceiros o que lhes coubesse no contrato, que eram
geralmente de “meia ou de terça”. Assim, dependendo do acordo, que era
verbal, o plantador pagava ao proprietário, um terço ou a metade das
culturas que produzisse.
As vazantes se constituíam do processo de
secagem das águas do leito to rio que não eram perenes como atualmente,
porém a pouca umidade restante das enchentes passadas, associada à
frescura do vento “nordeste”, uma brisa amena e fresca que ainda sopra
do Atlântico, permitiam às terras do leito do rio seco, mesmo sem a
frequência das chuvas, o resfriamento necessário ao processo de cultivo e
produção das culturas que se desejassem produzir.
Será que,
com a água permanente e a energia abundante de hoje, não se poderia
tornar mais rica e mais farta a produção dessas culturas?
A MONOCULTURA
Tivemos, na região, algumas experiências, frustradas com a MONOCULTURA.
Podemos citar as não frustradas nem frustrantes, que não
inibiam os trabalhadores de as consorciarem com as culturas de
subsistência. A CARNAÚBA, por exemplo, que não era plantada nem
cultivada – era nativa –, sempre deixava clareiras e grandes extensões
para o plantio de milho, feijão, batata, macaxeira, fruteiras e
hortaliças que garantiam o sustento e a sobrevivência da população, que,
em tempos idos, comprava no mercado apenas o açúcar, o café e a
farinha.
O ALGODÃO, outro exemplo de MONOCULTURA, embora plantado
e cultivado em grande escala, não impedia o consórcio com outras
culturas, mantendo racional a produção do algodão dos grandes
proprietários, consorciado com as culturas necessárias à manutenção dos
trabalhadores.e dos pequenos e médios agricultores. E porque não dizer
dos grande proprietários.
A chegada das grandes
empresas, com tecnologia, equipamentos, defensivos e adubos químicos de
primeiro mundo, plantando melão, inibiu inibiu o regime de parceria,
existente entre grandes e pequenos produtores, que, mesmo constituindo a
grande massa da população dos vilarejos, neles residentes, passaram a
ser marginalizados e afastados dos novos empreendimentos. É o caso ainda
consumado na empresa DELMONTE, multinacional que explora mais de dez
fazendas no Vale do Açu, produzindo banana, sem empregar os habitantes,
vez que um trator, uma carroça e dois operários dão conta do serviço
de cem hectares do produto. E não criam oportunidades de participação da
mão de obra ativa da região, que não conduz para a sua mesa, sequer uma
palma de banana. Se quiser saboreá-la, vai comprar nos mercados as que
são produzidas em Pernambuco.
E vemos nas porteiras que dão
acesso ao município de Ipanguaçu, placas ostensivas, visivelmente mais
humilhantes que empolgadoras, anunciando: CAPITAL NACIONAL DA BANANA.
E os trabalhadores, vivendo à margem desses
empreendimentos, carregam a sua desdita, sem ocupação, esperando um dia
ser aposentado, na velhice, quando seus braços perderem a atividade, ou
quando um acidente ou incidente lhe proporcionarem a “felicidade” de uma
invalidez que os levem prematuramente aos serviços de assistência
previdenciária. Fora disso, são levados à mendicância ou aos postos de
esmola das “bolsas” que produzem as legiões de inativos comprometidos
com a obrigação de votar nos comandantes políticos, “pais da pobreza”
que os arrebanham.
E não fica por aí, produzida apenas
pela DELMONTE, a nefasta MONOCULTURA que enriquece as multinacionais e
empobrecem os trabalhadores. A cana-de-açúcar ameaça invadir o que resta
das áreas produtivas do Vale do Açu. Já se ouvem murmúrios nesse
sentido. Multinacionais do gênero já crescem os olhos na fertilidade
prodigiosa do Vale do Açu, que já conta com energia e água abundantes,
os mais proeminentes valores da infra-estrutura desejada. Em se
consolidando, será decretada a obrigação do exílio do restante dos
moradores do Vale do Açu. Não haverá condição de se manterem sequer no
local, pois, associadas as duas culturas – banana e cana-de-açúcar –
decretarão a desertificação do populoso Vale.
O pior é
que não se tem a quem apelar. Falta a vontade política das lideranças
locais que se estão esvaziando. O Vale do Açu conviveu, em algumas
legislaturas com 5 deputados na sua área eleitoral. Podemos citar: Edgar
e Olavo Montenegro, Gerôncio Queiroz, depois seu irmão Geraldo, Ângelo
Varela, Hélio Dantas e Floriano Bezerra que se alternaram. Atualmente,
não tem um só. Alegam que isso ocorreu numa época em que a Assembleia
Legislativa abrigava 36 componentes. Por isso, sobravam 5 para o nosso
vale. É possível, porém desapareceu a proporcionalidade. Devia ter pelo
menos um.
E as instâncias federais? Alguém haverá de
perguntar. Os deputados federais e os senadores? Esses são como a Copa
do Mundo de Futebol. Só aparecem para pedir votos. De quatro em quatro
anos.
O pior é que fomos, durante muito tempo,
acalentados pelos candidatos políticos, com as promessas da chegada de
energia e de água para desenvolvermos as nossas potencialidades. Elas já
chegaram há algumas décadas e estão aí desenvolvendo as grandes
empresas estrangeiras. Os céus da região são ornamentados por uma imensa
cadeia de fios, de postes, de lâmpadas que servem apenas para iluminar a
nossa pobreza.
Onde não havia, foram escavados,
construídos riachos e adutoras que cortam as propriedades, inclusive as
dos pobres que veem a água correr sem a poderem utilizar para irrigação
de suas culturas. Cadê os recursos?
Diante desses
fatos, estamos convocando a população para um debate, sem restrição, em
que se possam discutir e elevar esses questionamentos que deverá ser
pacífico ou belicoso, porém eficaz e abrangente para ecoar nos altos
escalões das esferas administrativas, até sermos ouvidos, inclusive
noutras quebradas onde possam ressoar os ecos de nosso clamor, os
infelizes, porém altruísticos BERADEIROS do Vale do Açu.
Postado por
Gilberto Freire de Melo








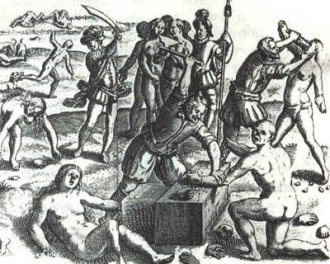



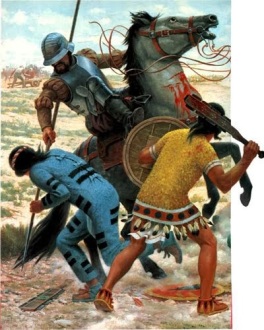






vinicus_santos.jpg)











